| Portada | Directorio | Buscador | Álbum | Redacción | Correo |
|
|
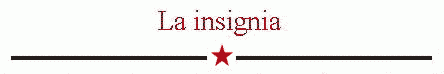
|
| 25 de junho de 2002 |
|
Três pontos iniciais sobre a historiografia brasileira
Guilherme Vargues
Ponto 1
Antônio Cândido, definiu Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. como os pensadores que constituíram a moderna interpretação do Brasil. Provavelmente, Os três percursores da moderna ciência social brasileira. Estes trabalhos foram publicados num momento da historiografia brasileira em que se "descobria" ou, se "redescobria" o Brasil. Era um momento em que se buscava o "caráter nacional brasileiro. É desta forma que, nos anos 30, surgiram três trabalhos que buscavam explicar "o quê significa ser brasileiro" e analisar as origens do Brasil. Foram elas: Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre; Evolução Política do Brasil (1933), de Caio Prado Júnior; e Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, traz, para o acervo cultural das ciências humanas - história, antropologia, sociologia - a inovação weberiana, ainda, e então, quase completamente inacessível ao pensamento brasileiro, assim, consegue transmitir sua análise, nos levando a visões muito amplas das da "História da Cultura", "das Mentalidades", "do Cotidiano", "da Marginalidade", "da Cultura Material", "Antropologia Histórica", e etc. Ele revela várias influências através das páginas de Raízes do Brasil: o método historicista alemão, a emergente metodologia francesa na historiografia (que ficou depois conhecida como École des Annalles, e posteriormente Nouvelle Histoire), o modernismo, além de outras. Em Raízes do Brasil são reunidos e combinados elementos da história social, da antropologia, da sociologia, da etnologia e da psicologia. É um trabalho que, de certa maneira, rompeu não só com visões teológicas da história, como também com racionalismos e determinismos científicos tão presentes na historiografia positivista. Gilberto Freyre, foi buscar nos diários dos senhores de engenho e na vida pessoal de seus próprios antepassados a história do homem brasileiro. As plantações de cana em Pernambuco eram o cenário das relações íntimas e do cruzamento das três raças: índios, africanos e portugueses. Segundo o próprio autor, "o que houve no Brasil foi a degradação das raças atrasadas pelo domínio da adiantada" . Os índios foram submetidos ao cativeiro e à prostituição. A relação entre brancos e mulheres de cor foi a de vencedores e vencidos. Ele entrelaça os fenômeno em contextos aparentemente conflitantes: distingue o indivíduo, a coletividade, a solidão, a multidão, o privado, o público, o anônimo, o conhecido. Distingue o outro para distinguir-se a si mesmo. Peter Burke, investiga um paralelo entre a chamada "nova história" pregada e praticada na França a partir da década de 60 e a história que Gilberto Freyre escreveu a partir da década de 30: "Os fundadores da escola dos Annales, Marc Bloch e Lucien Febvre estavam interessados no que eles chamavam "psicologia histórica" e estudaram a psicologia de Henri Wallon, embora negligenciassem Freud. Freyre, por outro lado, referiu-se em Casa-grande & senzala e em outras obras não apenas a Freud (que o atraía porque "explica mistérios de minha meninice"), mas também a monografias sobre a psicologia da infância e da família de discípulos de Freud tais como Flügel, Moll e Pfister. As referências não são casuais, pois a idéia de uma relação sado-masoquista entre senhor e escravo tem um papel central no estudo de Freyre". Uma série de estudos é feita sobre sua historiografia, inclusive, estas análises não fogem de um campo político e acadêmico do autor, assim, as representações que pesam sobre ele derivam tanto das posições e concepções que Freyre foi assumindo em sua trajetória, quanto das posições que foram se impondo no campo intelectual e político a partir dos anos 40 em São Paulo, e quando se discutia o objetivo de consolidar a "sociologia científica e nacional". Caio Prado Jr. introduz a interpretação marxista da história. E até por isso, é importante ressaltar, que as transformações ideológicas no mundo atual, acabaram por provocar uma reconstrução das referências intelectuais ocorridas na universidade e fora dela. Dentro deste cenário, é importante ressaltar que muitas das críticas atuais a historiografia de Caio Prado Jr., são na maioria das vezes embutidas como críticas políticas, desta forma não escapa também Gilberto Freyre. Os dois são alvo de muitas controvérsias entre críticos atuais, veja neste trecho de Carlos Nelson Coutinho uma discussão sobre a visão dos dois, em seu artigo intitulado Marxismo e "imagem do Brasil" em Florestan Fernandes: "Não são muitos os pensadores sociais que formularam, em suas obras, o que poderíamos chamar de uma "imagem do Brasil". Imagens desse tipo articulam sempre juízos de fato com juízos de valor, na medida em que não se limitam a fornecer indicações para a apreensão de problemas específicos da vida social de nosso País (como, por exemplo, o sistema colonial, a industrialização, a consciência do empresariado, o movimento sindical, etc., etc.), mas se propõem - para além e/ou a partir disso - a nos dar uma visão de conjunto, que implica não só a compreensão de nosso passado histórico, mas também o uso dessa compreensão para entender o presente e, mais do que isso, para indicar perspectivas para o futuro. Forçando um pouco os termos, poderíamos dizer que tais "imagens" contêm sempre uma articulação entre ciência e "ideologia", ou entre ser e dever-ser, o que nos permite classificá-las - conforme sua perspectiva seja conservadora ou revolucionária - como de direita ou de esquerda. Para darmos uns poucos exemplos, há "imagens do Brasil" nas obras de Gilberto Freyre e de Oliveira Vianna, que são de direita, ou na de Caio Prado Júnior, que é de esquerda". Nesse mar de opiniões, uma coisa fica clara, Caio Prado Jr., inicia a introdução do materialismo histórico na História do Brasil. Um aspecto importante da sua obra, é que para Caio Prado, o Brasil contemporâneo é um país plenamente capitalista, que já teria experimentado portanto uma "revolução burguesa", mas uma revolução burguesa de tipo "não clássico". Dentro da historiografia de Caio Prado, alguns aspectos comprometem a visão da formação da história do Brasil e, em conseqüência, tornaram imprecisas algumas visões político-estratégicas dos marxistas brasileiros. No seu livro a Revolução Brasileira, Caio Prado afirma: "o sistema colonial brasileiro se perpetuou e continua muito semelhante, isto é, uma economia fundada na produção de matérias-primas e gêneros alimentares demandados pelo mercado internacional". Esta visão que inicia-se desde o processo colonial, na forma de classificar o Brasil, dentro de uma visão por diversas vezes demasiada determinista, e estruturalista, como uma economia agroexportadora, dependente ao extremo da dinâmica metropolitana, e das suas relações dentro do exclusivo colonial, acaba por desprivilegiar a dinâmica própria da colônia, do seu mercado interno, das suas relações comercias com outros estrangeiros sem ser a metrópole, enfim, a análise de Caio Prado, encontra por diversas vezes dificuldades de dialogar com as peculiaridades do processo colonial do Brasil. O que não retira o valor, do precursor do materialismo histórico no Brasil, até por que, como todos que dão o primeiro chute, e ousam, o contato de Caio Prado com o marxismo, ainda é muito inicial, diferente de muitos outros marxistas de nossa época, como Jacob Gorender, Cyro Flamarion e outros. Ponto 2 A história até os anos oitenta ampliou seus objetos, os campos de análise, as problemáticas, bem como as abordagens. Sob a denominação de História das Mentalidades ou História Psicológica, delimitou-se um domínio de pesquisa que rompia, por vezes, com outras visões historiográficas, com o que Cyro Flamarion chama de história iluminista. Os "Novos objetos " delineados por essa História das Mentalidades, colocaram à prova modos de tratamento inéditos, tirando, do cotidiano, do imaginário popular elementos e tentando-os articular com o global. Porém, do ponto de vista científico dessa história, uma grande confusão começou a ser estabelecida: começava-se a perder os limites da história. Aos poucos, os trabalhos foram ficando com os domínios tão borrados ( o que para alguns era sinônimo de pós-modernidade) que tornava-se difícil localizá-los como trabalhos históricos muitas vezes, a mentalidade acabava por ficar como algo solto, desarticulado (em alguns autores). Tanto como (na definição de Cyro Flamarion) os pós-modernos ou com os iluministas, é preciso tomar muito cuidado, com os primeiros, para que a análise do micro perca toda a relação com o macro, e com os segundos (os iluministas) o cuidado para que não ocorra exatamente o contrário. Entretanto, alguns historiadores brasileiros, como Fernando Novaes, conseguem manter clareza e um grande valor histórico em suas publicações, quanto a história do Brasil. Segundo o autor: "Reconstituir, portanto, a "história da vida privada no Brasil "Colônia" implica tentar surpreender um processo em gestação na sua própria constituição e especificidade". Fernando Novaes, privilegia a relação do micro com o macro, os temas mais recortados devem ser levados ao conjunto, e assim, articular uma análise mais fidedigna da História. Incitando, evidentemente, uma crítica a "generalização estrutural", da historiografia brasileira. Seu objeto de estudo no texto citado na questão, é como ele mesmo diz: "esse «viver em colônias» que forma o objeto em estudo. Os vários capítulos irão descrever, analisar, esmiuçar as várias faces e de diversos ângulos esse fugido objeto". No texto, Novais, vai tentar articular manifestações da intimidade cotidiana com as estruturas básicas da formação colonial. Utilizando-se de diversos elementos, como a miscigenação, acumulação primitiva de capital autônomo na colônia, diversidade entre colônia e metrópole, análise das peculiaridades coloniais com relação a esquemas do velho mundo, análise do privado ao invés do público, utilização da história oral, regionalidades, imaginário popular e etc; Formando um elemento maior, o cenário de instabilidade e precariedade que vivia a colônia, que aliado a uma sociedade ambígua, começa a desenvolver o clima de nossa vida privada, de relações, "marcando o específico da quotidianidade e da intimidade no viver colonial". Desconstruíndo a idéia de uma cultura homogênea no Brasil. Um dos aspectos mais visíveis nesta análise, é o papel da religião. A religião influenciou diretamente a gênese dos processos de formação colonial, a catequese cristã acompanha toda a colonização moderna dos países Ibéricos, ademais, que a Igreja em época da contra-reforma marcará avidamente sua presença na colônia, na "conquista do gentio para o seio da cristandade". A Igreja fará parte intensiva da vida cotidiana, e da intimidade popular, sendo alvo de conflitos, negações e adaptações (surgem novas formas de expressão, no que se diz respeito da religiosidade popular, peculiar a colônia), ampliando o clima de instabilidade, e assim, servindo como vasta fonte de documentação que permite explorar a intimidade e o cotidiano da colônia. Ponto 3 Os três autores, fazem uma análise das relações político-econômicas entre colônia e metrópole, buscando compreender o enfrentamento entre autoridades, clero e colonos acerca do controle dos nativos, da agregação do excedente nas zonas coloniais, da dinâmica interna de funcionamento da colônia, do distanciamento entre as regiões da colônia, dos bandeirantes, e da autonomia relativa dos colonos frente a metrópole, autonomia que por diversas vezes furou o centralismo da burocracia lusitana, principalmente após a descoberta do ouro na região das minas. Pelo próprio Alencastro, uma conclusão nos parece clara, que o tráfico negreiro conduziu nossa economia e que a formação se fez em um sistema de exploração colonial conjunto, que compreendia, num lado, as amarras da produção fundada no trabalho escravo e, no outro, áreas nas quais se reproduzia a mão-de-obra servil. Não podemos também menosprezar a ação dos braços indígenas no processo de colonização. A administração do Império Português aparenta ser altamente centralizada e hegemônica. As decisões metropolitanas não eram o resultado da extensa troca e correspondência entre os colonos a metrópole, alias, nem mesmo entre os representantes da coroa no Brasil e Portugal. A Coroa sempre negou a criar no Brasil uma estrutura de administração que refletisse demandas ou interesses coloniais. No centro da política de Portugal, estava a nítida visão que a razão de existência do Brasil era a de "servir como fonte de matérias-primas e de impostos para a metrópole. As políticas portuguesas voltadas para o Brasil constituíram um caso clássico de mercantilismo e bulhonismo". Eram rígidos, os pagamentos dos dízimos (inclusive caso de revoltas dos colonos), a ação das compainhas de comércio monopolistas ultramarinas, a ação exploradora da igreja e etc. O Brasil era "uma mina sem fim de recursos financeiros", sempre dirigidos a necessidade da metrópole. A metrópole apela para um certo "imperialismo cultural", que negava uma vida cultural livre na colônia, rejeitando a criação de universidades na colônia, de imprensa. E ainda, deixando claro que a posição periférica do Brasil, era em termos mentais, espirituais, físicos e humanos, marginalizados, situados na periferia. Dentre todos os autores, uma questão muito interessante, é que apesar de todo o "arrocho" da burocracia lusitana, os colonos encontraram brechas para desenvolver não só uma dinâmica econômica interna, mas também um comércio, dentro das falhas de fiscalização, com as outras colônias, e com outras potências européias, veja este trecho de Russel-Wood: "As falhas no sistema de administração metropolitana, as políticas mal concebidas e inconsistentes da Coroa em relação à colônia, a falta de flexibilidade na implementação de ordens, e o malogro em reconhecer o caráter singular do Brasil, contribuíram para tornar frágil a autoridade dos conselhos metropolitanos [...] os colonos foram ágeis em reconhecer esta lacuna." Ademais, ressaltam também a flexibilidade (em alguns períodos) que os colonos encontraram no negociar estas "brechas" inclusive com a metrópole, quando não acontece, percebemos a existência de algumas revoltas "elitistas", que não questionaram a fundo o modelo, mas procuraram reivindicar "flexibilidade" dentro do "arrocho" metropolitano, a maioria destas crises, envolviam colonos (elite), clero e metrópole, e por diversas vezes a pauta dos conflitos era a questão da utilização da mão-de-obra nativa e do negro. Ambos concordam também ,que o marco desse "arrocho" lusitano, e de sua maior atenção frente a metrópole foi a descoberta de ouro na região das minas. Assim podemos concluir, as revoltas coloniais, "foram de limitada duração, carecendo de uma ampla base de apoio, com parcas repercussões para além da localidade ou região adjacente". A maioria foram por causa dos "excessos" da metrópole, algumas outras por razões sociais, mas ambas com desfechos de punição exemplar para os envolvidos, claro, os que estavam mais abaixo na escala social. Todavia, é evidente que a inflexibilidade da metrópole em determinadas questões fomentava reivindicações de maior elasticidade política por parte dos colonos. Alencastro também destaca uma importante questão, a diferença entre um projeto e sua realidade quando de fato dá-se sua implementação. E, demonstra em seus ensaios que a compreensão da dinâmica colonial brasileira deve estar inserida em uma posição "aterritorial", a dinâmica própria da formação colonial, porém descrevendo as suas relações fundamentais, vai assim construindo-se, por sua vez, uma visão de que é impossível a compreensão da sua dinâmica, a brasileira, sem compreender, por exemplo, a formação angolana, e vice e versa, é a autonomia em negociar e desenvolver-se em contextos, burocráticos, políticos e econômicos. Uma outra questão, que Russel-Wood coloca, é o papel de centro e periferia, entre metrópole e colônia, quando a colônia passa a ser o centro de exploração econômica da metrópole, e ainda, uma colônia alvo de um certo "imperialismo cultural metropolitano", com o passar do tempo a importância econômica da colônia ultrapassa a metrópole, que passa a sobreviver graças a suas colônias. Veja: "a periferia deveria sobreviver sem a introdução de capitais do centro [...] a periferia existia para manter e promover o centro." Já ressaltamos que essa relação funciona de forma imperfeita, assinalamos as movimentações da periferia sobre este assunto. Esta situação desembocaria no que já sabemos, e sem dúvida na ampliação gradual da autonomia política da periferia. A colônia foi orquestrando-se nas brechas da burocracia metropolitana, criando uma acumulação interna, ativando o comércio intra-colonial, desbravando-se para o interior e, equacionado assim gradativa autonomia frente a metrópole que sustentava, esta situação desembocará na chegada da família real ao Rio de Janeiro, e na conseqüente ampliação da autonomia política das elites coloniais. |
|